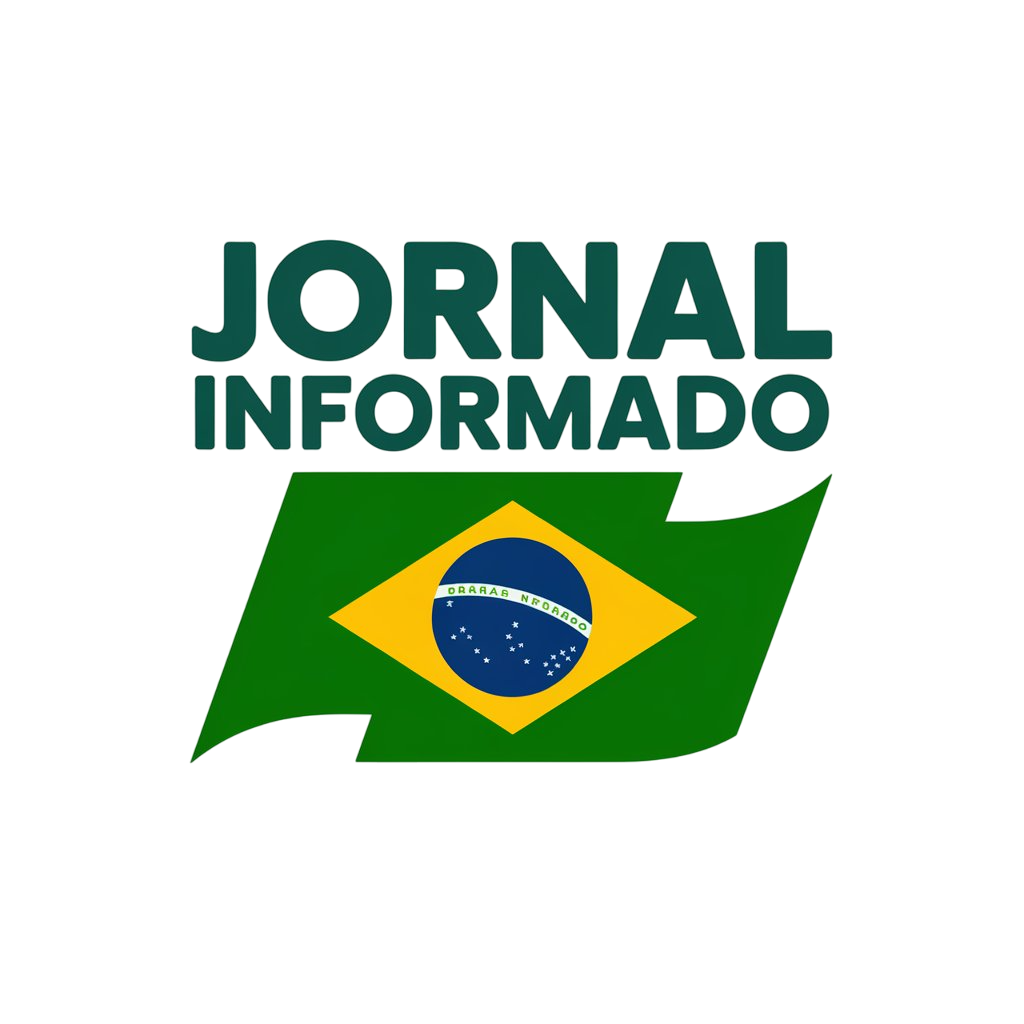Começa a ficar claro que o futuro descarbonizado do setor elétrico custa caro. Não basta colocar um painel no telhado —a integração eficiente da energia renovável exige também investimentos em redes, armazenamento e digitalização. E novos riscos, como o curtailment (cortes forçados de geração de energia), afetam a atratividade dos projetos e pressionam os custos sistêmicos.
Uma das respostas que emerge é: o contribuinte deve ajudar a pagar essa conta, afinal, as emissões e a mudança climática são problemas da sociedade, não apenas dos consumidores. Mas será que subsídios do Tesouro —se existissem— fariam mesmo a diferença? Ou seriam desperdício?
O ano passado foi o mais quente já registrado. As temperaturas extremas ajudam a explicar o aumento expressivo na demanda por eletricidade, que cresceu 4,3% globalmente —mais do que o próprio PIB— segundo a Agência Internacional de Energia (IEA). A elevação se deve ao calor recorde (e o consequente uso de ar-condicionado), à eletrificação de novos usos e à digitalização, com destaque para os data centers. E o futuro promete mais: mobilidade elétrica e indústrias intensivas em energia que buscam nas renováveis um caminho para descarbonizar suas operações.
Para atender a essa nova demanda, será necessário ampliar os investimentos em geração limpa. O governo busca criar condições para o hidrogênio de baixo carbono e aprovar um marco para a eólica offshore. Enquanto isso, tecnologias maduras como solar e eólica já se mostram competitivas. Ainda assim, investidores e associações setoriais pleiteiam mais subsídios —do Tesouro ou via tarifas— para viabilizar seus projetos e reduzir os impactos sobre os consumidores e a competitividade das empresas.
É nesse contexto que se torna essencial avaliar a eficácia desses apoios. Um estudo recente do EPRI (Electric Power Research Institute), uma organização norte-americana independente e sem fins lucrativos que realiza pesquisas e desenvolvimento, analisou os impactos do IRA (Inflation Reduction Act), legislação que estabelece incentivos fiscais a tecnologias limpas.
O resultado surpreende: entre 28% e 72% dos investimentos que receberam os subsídios teriam acontecido mesmo sem eles. Ou seja, o contribuinte bancou uma parte relevante de projetos que não precisavam do incentivo. Um caso clássico de gasto público ineficiente —e de difícil defesa em tempos de ajuste fiscal.
E no Brasil? Já temos benefícios que se perpetuam, como os do Proinfa e os descontos nas tarifas de uso de rede para fontes incentivadas, que não param de inflar encargos. Agora, com a nova Lei nº 14.681/2024, o país institui um amplo programa de estímulos ao hidrogênio de baixo carbono, com incentivos fiscais que podem chegar a R$ 18,3 bilhões até 2032. A lei oferece créditos tributários para projetos de produção e uso do hidrogênio verde em setores como transporte, siderurgia e fertilizantes.
Embora o impulso à inovação seja importante, a questão permanece: quantos desses projetos só sairão do papel graças aos incentivos? E quantos já aconteceriam de qualquer forma? A dificuldade de medir a efetividade dos subsídios —sua adicionalidade real— é um risco relevante em um país de espaço fiscal restrito.
A lição é clara. Seja o subsídio bancado pelo contribuinte ou pelo consumidor, parte relevante dele pode acabar sendo apenas uma transferência de renda ao investidor —sem impacto real na decisão de investir. E isso não resolve o problema do clima. Só piora o da eficiência e do gasto público.
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.